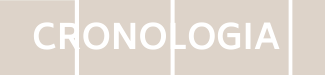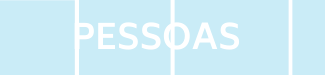Esta jornada começa no final de 2010, quando meus pais decidiram comprar um apartamento para meu irmão e eu em Porto Alegre. Nesta época nós alugávamos um de dois quartos, num endereço privilegiado da Capital: na ponta da Avenida Osvaldo Aranha, no bloco de trás de um conjunto de prédios em frente a Universidade. O condomínio Central Park, nos números 340 e 350, era ocupado basicamente por jovens novatos na cidade, que precisavam estar próximos dos campus central da UFRGS, dos corredores de ônibus, do bairro Bom Fim, da Redenção. Meu irmão não se encaixava precisamente nesse perfil, pois morava na cidade há pelo menos cinco anos antes da minha chegada, mas para mim isso ainda era uma grande vantagem. Um prédio que havia porteiros simpáticos que trabalhavam 24 horas por dia e propiciavam um ambiente seguro para o início da minha nova vida na “cidade grande”.
Nos finais de semana, tomávamos qualquer linha em frente ao edifício que fosse em direção centro e descíamos em menos de cinco minutos na rodoviária, onde comprávamos passagens para voltar a nossa cidade de origem, Capão da Canoa. Depois de cinco anos nessa rotina, que compreendeu a minha formação no Ensino Médio e a plena adaptação à vida universitária, a proprietária decidiu vender o apartamento. Nos foi feita uma oferta para comprá-lo, mas não valia a pena. Iniciou-se, então, a busca por um novo lar.
Apesar de meu irmão andar mais de carro do que de ônibus nessa época, houve uma busca que priorizasse uma localização eficiente. O trânsito em Porto Alegre era algo a ser evitado e o filtro das buscas nos sites imobiliários priorizava zonas centrais. Havia nas nossas procuras uma curiosidade por morar no Centro Histórico, motivada pela aparente segurança do bairro. Além disso, o Centro mexia com o imaginário da nossa mãe, que com 15 anos habitou o número 438 da Rua General Câmara, conhecida também como Rua da Ladeira.
Neste edifício, começou num sistema de pensão com outras meninas e estudava no Colégio Júlio de Castilhos. Logo depois, ela passou a dividir um apartamento de dois quartos com sua mãe, seus dois irmãos mais velhos e seu pai, que vinha nos finais de semana de Santo Antônio da Patrulha. Era apertado e um dos quartos foi dividido com minha avó por meio de um guarda-roupa. Um de seus irmãos fazia engenharia à noite na PUCRS e tinha o hábito de pegar a última sessão de qualquer filme que estivesse passando nas salas de cinema da Rua da Praia. Minha mãe o acompanhava às vezes e numa dessas assistiram juntos “Os embalos de sábado à noite” (1977), o clássico estrelado por John Travolta, ícone da juventude na década de 1970.
Entre as memórias desta época, ela nunca esqueceu de um episódio. Na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, acontecia um protesto pelo qual ela não se lembra bem a causa, mas havia um cordão de isolamento, com tropa de choque e cavalaria da Brigada Militar cercando os manifestantes. Ela voltava da farmácia, na Rua da Praia, quando, quase chegando de volta ao prédio, avistou um grupo pequeno de manifestantes que havia furado aquele cerco e vinha descendo em fuga na direção dela. Quisera ser apenas pessoas correndo, mas logo atrás vinha a borracha: três brigadianos, munidos de cassetetes e escudos de choque os perseguiam. Ela não teve escolha: subiu correndo em direção a agitação até o instante exato em que entrou no alpendre do edifício, que a resguardou por um triz do espancamento inevitável que descia desenfreado derrubando qualquer um que estivesse na calçada. Foi como se o prédio tivesse salvado ela de um atropelamento, como numa cena clássica de um filme aventura em que a mocinha é resgatada do meio da rua pelo herói do filme. Foi o mais próximo que minha mãe chegou da repressão durante a Ditadura Militar.
O Centro com seus séculos de lembranças na história era visto ainda como um espaço de apreciação por meus pais e, da mesma forma, eu passava a desejar viver aqueles espaços. Meu pai tinha até poucos anos atrás uma fixação em buscar os motivos da decadência da Rua da Praia. A migração das lojas de luxo para os grandes shoppings, para ele, comerciante, era a explicação para a degradação do bairro. Segundo ele, o valor do Centro só seria restaurado no dia em que as grifes voltassem para os limites da Praça da Alfândega, da Rua Uruguai, da Avenida Borges de Medeiros etc. Hoje, meu pai só vai ao centro para buscar amêndoas e pistache no Mercado Público.
Já em meados dos anos 1980, minha mãe morou por cerca de dois anos no apartamento de seu tio, no Edifício Cruz Alta, que ficava na esquina da Praça Conde de Porto Alegre com a Rua Duque de Caxias. Numa noite sentiu-se mal quando voltava da faculdade, ao descer da lotação em frente a Mesbla, na Otávio Rocha, onde sempre subia a pé pela Rua Dr. Flores, se encostou numa parede próxima a uma farmácia e pensou, “se for pra desmaiar, que seja próximo a uma farmácia”. Vestida de branco e com uma maleta com brasão do curso de odontologia da PUCRS, minha mãe apagou na calçada e acordou em sua cama.
Ao me contar esta memória, ela relatou que, ao desmaiar, uma senhora que trabalhava na farmácia a socorreu e colocou-a sentada numa cadeira. Foi questionada sobre onde morava e teria dito que era na Duque. A senhora chamou um táxi, levou-a até o endereço, pegou a chave de sua bolsa, abriu o apartamento, deitou-a em seu quarto e deixou um bilhete com um telefone.
Nos dia seguinte, minha mãe ligou para o número e agradeceu a senhora que havia lhe acudida em via pública. Na conversa, descobriu que a mulher era irmã de um médico muito conhecido em Santo Antônio da Patrulha, e que, inclusive, havia tratado de seu pai, quando sofreu um derrame. Minha mãe não consegue lembrar hoje o nome da mulher, mas a cena ficou gravada como fotografia.
Neste mesmo prédio ela terminou sua graduação, num momento difícil em que meu avô já estava acamado e meu pai vivia com meu irmão no Litoral. Do alto daquele edifício, nos finais de semana, a saudade só terminava quando ele parava o fusca azul no oblíquo da praça e meu irmão, com cerca de dois anos, descia calçando botinhas brancas. Esta é uma das memórias mais dolorosas para ela, pois marca os primeiros anos de vida do primogênito. Um sacrifício difícil de engolir até hoje.
Apesar das diversas memórias comprimidas neste bairro, o que ficou também para a escolha de um novo lugar foi a boa lembrança que se constituiu sobre os apartamentos espaçosos do Centro. Uma herança dos primeiros edifícios de arquitetura moderna da Capital que surgiram do centro em direção ao bairro. Nesse movimento, a continuação das Ruas da Praia e Duque de Caxias é, nada menos, que a Praça Dom Feliciano, o marco zero da Avenida Independência.
A minha lembrança mais perene desta avenida é a esquina do Edifício São Paulo, onde eu e outros jovens, de várias gerações, se encontravam para beber no Bambu’s, um bar que comecei a frequentar antes mesmo de entrar na faculdade. A esquina foi por anos o meu norte referencial, pois dali nunca perderia o caminho de volta para casa. Bastava descer o final pela Rua Dr. Barros Cassal, quando surgia o Instituto de Educação a frente, virava à direita e corria até o final da quadra da Osvaldo Aranha. O meu prédio era o último antes do Túnel da Conceição.
A esta altura da vida eu pouco havia me aventurado com caminhadas pela Independência. Meu limite era o número 936, onde ficava o Encouraçado Butikin, uma clássica casa noturna fundada nos anos 1960, em frente ao antigo Teatro Leopoldina, mais conhecido como Teatro da Ospa. O desejo de morar na Independência crescia na medida em que fui descobrindo a história cultural do bairro. Passei a ouvir que aquela avenida era famosa por que as pessoas não apenas caminhavam naquelas calçadas, mas desfilavam. Uma rua de fluxo constante, mas lembrada sempre como um requinte da burguesia porto-alegrense. As calçadas largas lhe davam a impressão de que seria a Avenida Paulista do Rio Grande do Sul.
A busca pela nova morada em Porto Alegre cessou no dia em que entramos no apartamento 73, no bloco de trás do número 1152. Nós havíamos visitado outros imóveis no mesmo logradouro, mas todos, até ali, eram sonoramente poluídos pelo trânsito da Independência. O imóvel com dois quartos, sendo uma suíte e uma sala que poderia se tornar um terceiro quarto, cozinha espaçosa, área de serviço, dependência de empregada, uma grande vaga de garagem no subsolo e uma vista parcial para o Guaíba. Minha mãe e meu irmão, no entanto, torceram o nariz para o atributo que eu mais gostei, uma criação do antigo proprietário: um rebaixamento do teto das salas de estar e jantar feito de uma madeira nobre, com acabamento de forma que dava a ilusão de que se estava numa casa de campo, o que tornava o ambiente extremamente aconchegante.
Após algumas discussões sobre a idade do prédio, que não se tratava de uma edificação jovem, e sobre as possíveis reformas que seriam necessárias, a cozinha precisava ser remodelada e um dos quartos também, cerca de dois meses depois, no início do ano letivo de 2011, meu irmão e eu estávamos nos mudando para o Edifício São Lucas.
![]()